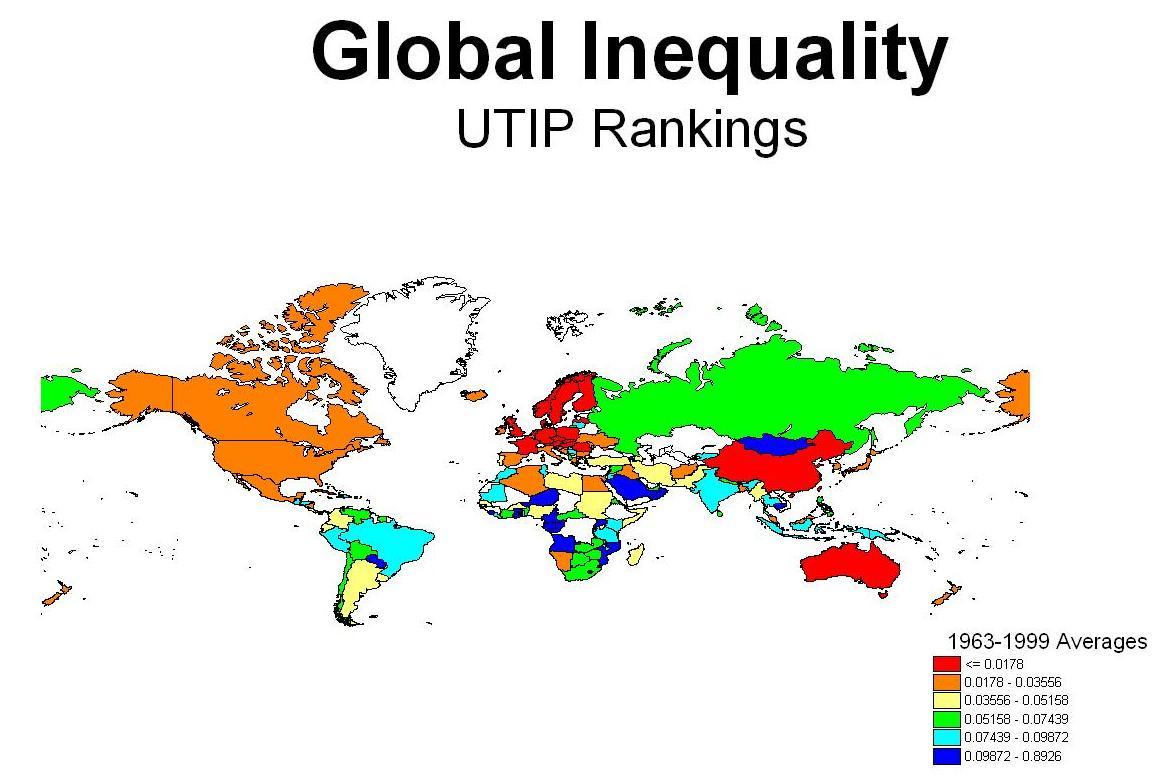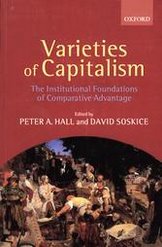Muito se tem escrito sobre o impacto do novo Tratado Europeu sobre o futuro do modelo social europeu (por exemplo, André Freire no 'Público' de hoje, como o João Rodrigues e o Ricardo Paes Mamede, dos
Ladrões de Bicicletas, no 'Le Monde Diplomatique' deste mês). Espero com este
post mais longo contribuir um pouco para o debate.
A União Europeia tem sido apresentada como uma espécie de paraíso neoliberal num só continente. Isto parece-me uma imagem francamente parcial, e que parte da sobreposição de monetarismo com neo-liberalismo,
como se todo o aparelho regulador, redistributivo e cooperativo sobre o qual assenta o projecto e a prática da UE não existisse. Perguntem a qualquer neo-liberal o que ele acha da UE e verão a sua opinião. Fala-se de concorrência fiscal como se toda toda a concorrência neste plano fosse negativa (e equivalente a
dumping, o que não obviamente verdade), e ignora-se que tem havido múltiplas convergências para além do plano monetária e orçamental. Por exemplo, tem havido uma convergência progressiva nas despesas sociais, sem que tenha havido nenhum acordo entre Estados-membros ou qualquer imposição por cima (que seria inútil ou contraproducente, parece-me). Basta olhar para quadro 1 (os dados são do Eurostat) que mostra as despesas sociais (atenção: a educação não está aqui incluída) dos Estados da UE entre 2000 e 2004.

Basicamente, os países que mais gastavam no passado estagnaram os seus gastos sociais/PIB (uns sobem um pouco, outros descem residualmente), mas o processo mais interessante é o de progressiva convergência dos países que historicamente gastavam muito menos na protecção social. Se estamos a assistir um processo de nivelamento, é por
cima, e não por
baixo (não é um
race to the bottom, but to the ceiling!): são os países que eram mais pobres e gastavam menos em protecção social que, à medida que enriquecem, se aproximam dos níveis de esforço dos mais ricos e com protecção mais generosa. Portugal é um desses casos: em 2004, os gastos sociais ascendiam a 24,9% do PIB, não longe da Finlândia (26,7%), da Noruega (26,3%), ou do Reino Unido (26,3%). Segundo, o peso dos gastos nas áreas sociais é mais alto hoje no total dos gastos públicos do PIB. Por exemplo, a Suécia, cuja percentagem do PIB em gastos sociais subiu de 21% em 1974 para 31,3% em 1984, gastava em 1995 (depois da crise 1991-1994, que muitos viram como o fim do modelo social-democrata) 33% da riqueza nacional em áreas sociais, valor que se mantinha em 32,9% em 2004. Usando o critério tradicional de que um Estado é mais 'social' quanto mais gastar nestas áreas, então a Suécia é mais Estado social hoje do que nos '30 anos gloriosos'. Isto não é excepção: todos os 21 países da OCDE para os quais existem dados (mesmo os que sofreram cortes substanciais em alguns programas) gastavam uma fatia da riqueza nacional nas áreas sociais em 1995 (ou em 2004) superior a 1974, apesar da desaceleração generalizada e alguns cortes nas décadas de 80 e 90. É verdade que a maioria dos países não vive uma expansão continuada dos seus Estados sociais (mas também não pode ser, não é? O tecto pode ser variável em função do espaço, do tempo, das instituições, mas tem que existir), mas também não há nada nas tendências recentes que corresponda ao cenário do nivelamento por baixo. E vamos esperar pelo aumento dos gastos sociais dos países do Leste que ainda agora se juntaram à UE. É bem provável que os seus Estados sejam, daqui a alguns anos, mais Estados sociais do que são hoje.
Na medida em que a globalização hoje é conduzida e justificada por duas grandes grelhas discursivas - a
regulacionista e a da
mercadorização - a União Europeia inscreve-se claramente na primeira. Dir-me-ão que isso vai contra o projecto de constituir um 'mercado único'. Mas não há aqui contradição nenhuma. É precisamente porque se procura constituir um mercado único que há necessidade de montar uma arquitectura reguladora a nível laboral ou ambiental. Muitos podem achar esta arquitectura limitada, insuficiente, etc., mas o princípio fundamental é o da regulação (alguém se lembra do que aconteceu à Microsoft?), para além da importância da cooperação entre Estados que funciona de forma oposta à lógica da concorrência, fiscal ou outra. Para além do mais, o mercado único - e muitos varrem este elemento para debaixo do tapete - permitirá ganhos de eficácia, produtividade e criação de riqueza - ganhos absolutamente essenciais para financiar qualquer modelo social do futuro. Obviamente, falta aqui coordenação e alocação inteligente de fundos. E falta acabar com uma série de protecções anacrónicas (espanta-me que ninguém à esquerda critique severamente a Política Agrícola Comum (PAC) que consome metade do orçamento da UE: para além de encher os bolsos ao
agrobusiness - e não aos pequenos agricultores -, é verdadeiramente criminosa pelas dificuldades que cria aos agricultores do Terceiro Mundo. A luta contra a PAC valeria a pena, mas porque ninguém a leva a sério? A minha hipótese aponta para o facto de que isso obrigaria a desmantelar uma série de regulações e proteccionismos e isso, claro, parece ser 'mau' por definição, ou pelo menos assenta na admissão que os mercados devem funcionar, regulados e construídos com regras correctas e justas, sim, mas devem
funcionar...). E falta construir outras. Por exemplo, as que viajam sob os
labels de 'flexigurança' ou '
mercados laborais transicionais'.
Outro elemento que parece muito escandaloso é a baixa dos impostos sobre o capital e o aumento dos impostos sobre o trabalho e sobre o consumo. De facto, isto é a tradução da nossa realidade: numa economia globalizada, o

capital é mais móvel que o trabalho e, por isso, 'vota com os pés' quando as condições não lhe agradam:
migra. Nada de estranho, por isso - podemos condenar, mas é algo economicamente dificil de evitar; estúpido seria fecharmos os olhos. De qualquer forma, é importante ter a noção, primeiro, de que o recuo tem sido lento e quase residual durante os anos 80 e 90. Os quadros seguintes mostram a evolução dos níveis de fiscalidade sobre o capital (quadro 2), o trabalho e sobre o consumo entre 1981 e 1995: a figura é quase, num ambiente mais complicado para os
policy-makers, de quase total inamobilidade. Sim, o capital tornou-se mais exigente; sim, por vezes é preciso compensar subindo os impostos sobre o trabalho e sobre o consumo, mas os compromissos sociais dos vários Estados tornam grande mudanças altamente improváveis, senão impossíveis num período de tempo curto. Vale a pena citar parte da conclusão dos autores do estudo de onde retirei estes quadros
("The New Political Economy of Taxation in Advanced Capitalist Democracies", de Duane Swank e Sven Steinmo, American Journal of Political Science, Vol. 46, No. 3. (Jul., 2002), pp. 642-655):
 «Overall, the "new political economy of taxation" may be characterized as an environment where policy makers confront three interrelated constraints: internationalization,
«Overall, the "new political economy of taxation" may be characterized as an environment where policy makers confront three interrelated constraints: internationalization,
domestic economic stress, and budgetary imperatives. Capital mobility has not led-and is not likely to lead to a "race to the bottom" or the evisceration of the revenue-raising capacity of the state: governments can (and do) pursue moderately extensive social protection and public goods provision when they and their electorates so choose. Equally clearly, governments face a new set of challenges from internationalization, and these have contributed to a paradigm shift in tax policy and to some specific tax reductions. At the same time, domestic economic problems call for reductions in tax burdens on capital and labor; these forces compete with international factors for shares of tax reduction. Yet, domestic budget dynamics, especially the size of public sector debt, significantly limits tax policy change. Overall, policy makers in contemporary democratic polities have faced intensifying pressure to reform tax policy to promote economic efficiency.»Mas há mais um elemento que importa não esquecer: é que, historicamente, o modelo socia-democrata nunca se singularizou através de uma estratégia de imposição de altos níveis de fiscalidade sobre o capital ou sobre os rendimentos: a variação entre países é enorme e não nenhum padrão importante discernível aqui (ver quadro 4, retirado deste
livro de Peter Lindert, p.238). Pelo contrário, a estratégia sempre assentou em taxar o consumo (ver quadro 5, p.241) para incentivar o contínuo (re-)investimento dos lucros. O crescimento de uma economia social-democrata não assenta na promoção de uma 'sociedade do consumo', mas de uma 'sociedade do investimento', seja em capital fixo, seja em capital

humano.

Para terminar: isto não significa que está tudo bem e que não haveria muita coisa a fazer para melhorar as hipóteses do 'modelo social europeu' ser uma realidade e não um
slogan dos documentos da Comissão Europeia. Há, sem dúvida, elementos preocupantes e duvidosos na política do Banco Central Europeu. E há países que pensam de forma diferente numa Europa a 27 (pudera!) e com os quais é dificil chegar a acordo sobre a possibilidade de impôr certos standards sociais de forma unívoca e mais ou menos imediata (como o Reino Unido e a Irlanda, um país excepção na tendência de subida dos gastos sociais a que fiz referência em cima). A Europa é sempre a
possível, não a
ideal. Sendo isto verdade, é abusivo considerar a União Europeia um 'paraíso' ou uma 'experiência neo-liberal'. Muitos dos remédios propostos, por exemplo a nível financeiro, parece-me que só teriam possibilidade de serm aplicados politicamente se impostos a nível global, e não apenas europeu.
Seria um erro deixar de lutar por uma Europa onde a prosperidade deve ser partilhada e não reconhecer o caminho até aqui feito - e o muito que ainda falta por fazer. Por exemplo, os Estados podem trabalhar entre si para acordar promoverem certas especializações nacionais na produção de serviços de alto valor acrescentado, e os sindicatos podiam e deviam participar neste trabalho de coordenação. Isto resultaria em maior competição, mas, porque seria o resultado de coordenação institucional e política, não levaria a nenhum
dumping, mas, pelo contrário, a uma maior produtividade nos serviços. Aumentar a produtividade neste sector, que emprega cada vez mais gente - tendência que continuará no futuro; ninguém vai voltar a encher os campos ou as fábricas - e contribui cada vez mais para o PIB devia ser uma prioridade para a economia europeia. Ao contrário do que muitos pensam, hoje há mais gente a trabalhar em mercados protegidos da competição ("selvagem", dizem - o que dirão dos EUA, então, onde as regulações à europeia são quase inexistentes?) do que no passado, quando as economias europeias assentavam essencialmente na exportação de produtos industriais; para estas pessoas que trabalham hoje em serviços intensivos em mão-de-obra que não podem ser deslocalizados - pense-se na restauração, no turismo, nos serviços pessoais, etc., onde o mercado é altamente dinâmico e, por isso, incerto -,
não há praticamente competição internacional. O incentivo para melhorar a produtividade destes serviços é, por isso baixa. Mas outros serviços existem onde a sua internacionalização deve ser uma prioridade - por exemplo, na área financeira, ou nas telecomunicações, etc. -, também porque é preciso aproveitar o impulso na produtividade
que as novas tecnologias deviam também permitir (e que já começou a dar resultados nos EUA). Como escreve o Torben Iversen:
«This in turn requires a rethinking of the traditional opposition on the left toward a greater international competition in previously sheltered, and presumably therefore secure, services. Only if this happen may it be possible to reestablish a virtuous interplay between solidaristic wage policies and the expansion of employment. There would ultimately be no greater accomplishment for social democracy than to put the Rehn-Meidner model on its feet» (p.176).